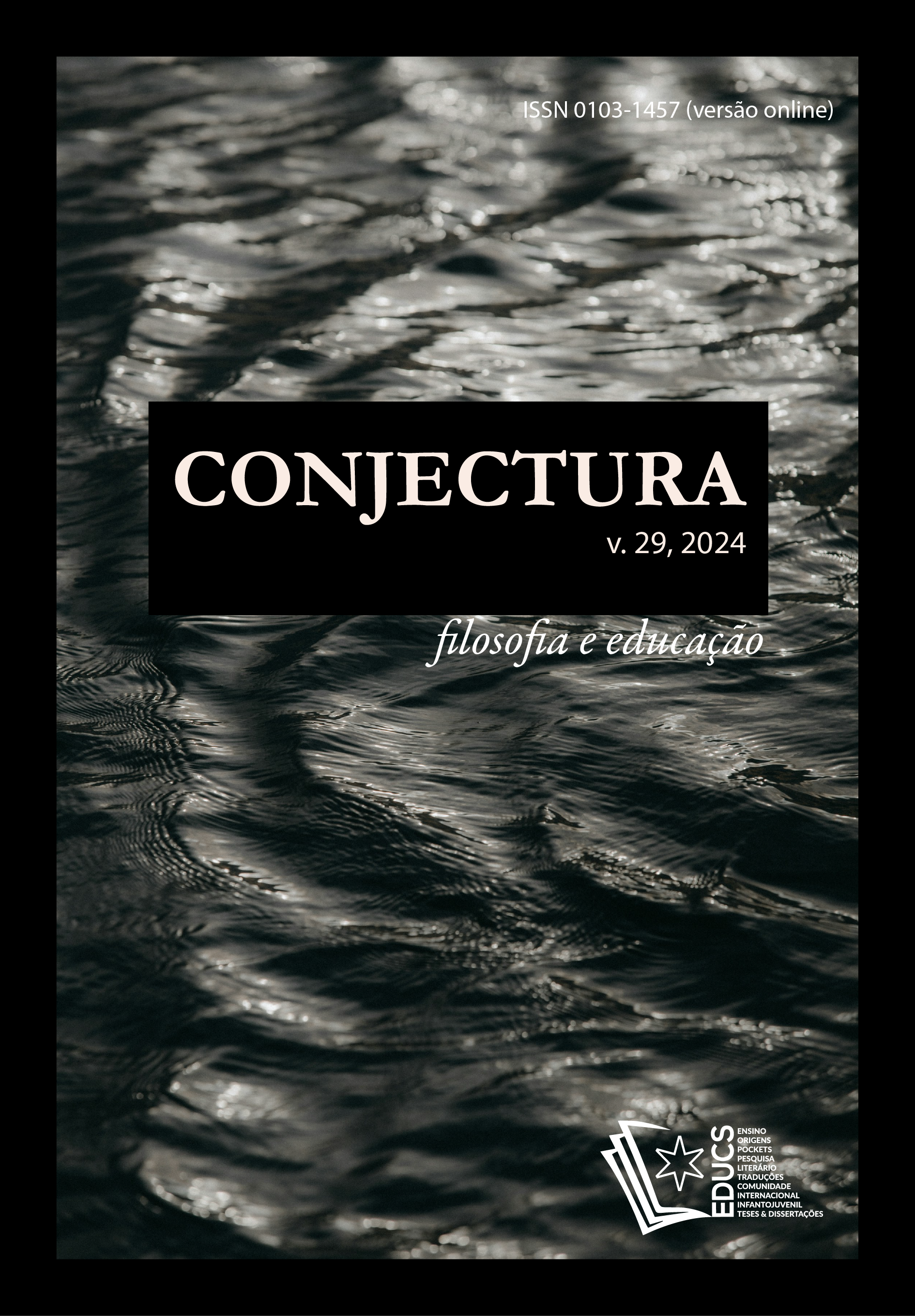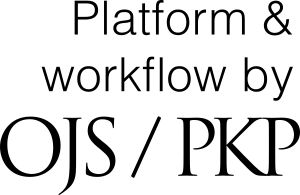(Des)construções filosóficas sobre o Brincar
DOI :
https://doi.org/10.18226/21784612.v29.e024007Mots-clés :
Brincar, Criança, Pedagogia, Filosofia, Currículos.Résumé
Viver e brincar estão diretamente associados para a criança. Aprender e desenvolver, ainda que inconscientemente, também. Do ponto de vista da Filosofia e da Pedagogia, o brincar está diretamente relacionado comas noções de consciência, alteridade e práxis, o que significa refletir que é pelo brincar que o sujeito tem a sua primeira experiência autônoma com o prazer da vida em seu inconstante devir. Como parte de uma pesquisa qualitativa desenvolvida no biênio 2019-2020 entre pedagogos(as) em formação de uma Faculdade de Educação, este artigo tem como objetivo evidenciar o brincar como uma ação que humaniza a criança, que ludicamente a ensina e que se constitui como uma prática de liberdade, pelo que, deve ser plenamente exercido e não meramente constar nos marcos legais como um direito da criança. Trata-se de uma revisão de literatura cujos resultados empíricos apresentados e discutidos são provenientes da referida pesquisa que, ancorada em uma abordagem qualitativa, valeu-se dos procedimentos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. Como desfecho principal deste texto, constata-se uma carência da exploração da temática do brincar durante o percurso formativo dos participantes, uma vez que apenas 8% do total de horas que compõem o currículo se destinam a essa discussão. Para mudar essa realidade curricular, urge, pelos elaboradores e mediadores dos currículos proclamados e praticados, a compreensão do brincar como dimensão fundamental da vida da criança.
Références
AGAR, M. Language Shock. Understanding the culture of conversation. New York: Perenial, 2002.
ALMEIDA, K. E. de. Minha querida boneca: Uma orientação para pais, professores e educadores segundo as ciências espirituais. 3 ed. rev. Campinas. SP: Associação Beneficente Três Fontes, 2012.
ALVES, D. C. Por um Pedagogo Brincante. Revista Licere, v. 23, p. 546-586, 2020.
ARISTÓTELES. Metafísica [Métaphysique. Trad. Jean Tricot. Paris: Vrin, 2000].
BARBOSA, M. C. S.; CANCIAN, V. A.; WESHENFELDER,
N. V. Pedagogo Generalista – Professor de Educação Infantil: implicações
e desafios da formação. Rev. FAEEBA – Ed. e Contemp., Salvador, v. 27, n. 51, p.
-67, jan./abr. 2018.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70 Brasil, 1991.
BERTI, E. As razões de Aristóteles. Trad. de Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1998. (Coleção Leituras Filosóficas)
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação. Tradução Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13.07.1990, Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 08 dez 2020.
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.
CHIAPPERINI, C. (org.) Walter Kohan - Infanzia e filosofia. Milano: Morlacchi, Editore, 2006.
CICHOCKI, M. S. É tempo de brincar: pedagogia Waldorf. In: XIII EDUCERE - Congresso Nacional de Educação, 2017, Curitiba - PR. Anais do XIII EDUCERE - Congresso Nacional de Educação "Cultura, currículos e saberes". Curitiba - PR: PUC-PR, 2017.
CRAEMER, U. O brincar na comunidade: Uma comunidade se transforma com a arte lúdica. In: Renata Meirelles. (Org.). Território do Brincar - diálogos com escolas. 1ed. São Paulo: Instituto Alana, 2015.
DANTAS, Edilene S.; COSTA, Mayara A.; SANTOS, Sintiane M.. O brincar e suas implicações no processo de aprendizagem na educação infantil. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Pedagogia) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Lúcia Maria de Andrade da Silva Caraúbas.
ECKSCHMIDT, S. O brincar na escola: Entre tantos caminhos... In: Renata Meirelles. (Org.). Território do Brincar - diálogos com escolas. 1ed.São Paulo: Instituto Alana, 2015.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.
FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. 3 ed. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1979.
FREUD, S. Más allá del principio de placer, v. XVIII, 1920.
FRIEDMANN, A.; PIORSKI, G.; SANTOS, M. F.; CRAEMER, U.; SAURA, S. C.; LAMEIRAO, L.; ECKSCHMIDT, S.; LEITE, A. C. A. Diálogos e Experiências: pontes que conectam pessoas e territórios. In: Renata Meirelles. (Org.). Território do Brincar - diálogos com escolas. 1ed.São Paulo: Instituto Alana, 2015.
GATTI, B. A. (coord.); BARRETTO, E. S. de S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001846/184682por.pdf. Acesso em: 07 jun. 2013.
GERA, M. Z. F.; TASSINARI, A. M. O espaço do brincar na educação infantil: um estudo em creches e pré-escolas. In: IX Encontro de Pesquisadores do Uni-FACEF, 2008, Franca/SP. Anais do IX Encontro de Pesquisadores do Uni-FACEVF. Franca/SP: Uni-FACEF, 2008.
GHIRALDELLI, P. J. História da educação brasileira. São Paulo: Cortez, 2006.
HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes, 1992.
HYPPOLITE, J. Gênese e estrutura da Fenomenologia do espírito de Hegel. Tradução de Sílvio Rosa Filho. São Paulo: Discurso Editorial, 1999.
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortês, 1994.
Kishimoto, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. Pro-Posições. Vol. 6 Nº 2 [17], 46-63, Junho de 1995.
KUHLMANN JUNIOR, M. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 1998.
LANZ, R. A Pedagogia Waldorf: caminho para um ensino mais humano. 12 ed. São Paulo: Antroposófica, 2016.
LIBÂNEO, J. C. O ensino da Didática, das metodologias específicas e dos
conteúdos específicos do ensino fundamental nos currículos dos cursos de Pedagogia.
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 91, n. 229, p. 562-583, set./
dez. 2010.
MARX, K. A ideologia alemã – 1º capítulo seguido das Teses sobre Feuerbach. São Paulo: Moraes, 1984.
NUNES, C. M. F.; ARAÚJO, R. M. B. de; LUCINDO, N. I. As vozes de egressos de Pedagogia de uma IES Pública Federal: entre as políticas e a formação de pedagogos. Colloquium Humanarum, v. 16, p. 04-18, 2019.
PIMENTA, S. G. et. al. Os cursos de licenciatura em pedagogia: fragilidades
na formação inicial do professor polivalente. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 43, n. 1, p.15-30, jan./mar. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v43n1/1517-9702-ep-43-1-0015.pdf >. Acesso em: 24 set. 2018.
PINTO, J. da S. S. P.. A escolha de escolas Waldorf por famílias de camadas médias. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação da UFMG. Orientador: Maria Jose Braga Viana.
REAL, H. R.; SANTOS, D. F. M. dos; WEBER, M. M. O brincar livre: reflexões para o professor de pré-escola. In: Anais do EDUCERE: XIII Congresso Nacional de Educação: Formação de Professores; contextos, sentidos e práticas; IV Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividades e Educação – SIRSSE; VI Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/23654_12640.pdf. Acesso em 08/12/2020.
SARAMAGO, J. Memorial do Convento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
SOUZA, E. C. S. Ausência do brincar na educação infantil de uma escola no município de Santo Estevão. In: V COLOQUIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, 2011, ARACAJÚ - SERJIPE.
STEINER, R. A questão pedagógica como questão social: os fundamentos sociais, histórico-culturais e espirituais da pedagogia das escolas Waldorf. São Paulo: Editora Antroposófica, 2019. (Original: 1919)
TEIXEIRA, H. C.; VOLPINI, M. N. A importância do brincar no contexto da educação infantil: creche e pré-escola. Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade, Bebedouro-SP, 1 (1): 76-88, 2014.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
1. A publicação dos originais implicará a cessão dos direitos autorais à revista Conjectura.
2. Os textos não poderão ser reproduzidos sem autorização da revista depois de aceitos.

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.